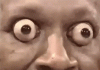A contemporaneidade é marcada por avanços tecnológicos, fluxos intensos de informação e mudanças culturais profundas. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, revela-se um cenário de crescente sofrimento psíquico, de solidão e de invisibilidade de indivíduos e grupos. Nesse contexto, o acolhimento emerge como uma necessidade urgente, não apenas em espaços terapêuticos ou clínicos, mas na vida social mais ampla. Este texto propõe uma reflexão crítica e atual sobre a articulação entre acolhimento, dor, invisibilidade e saúde mental, evidenciando seus impactos individuais e coletivos.
A dor, frequentemente silenciada ou patologizada, precisa ser compreendida como dimensão constitutiva da existência humana, enquanto a invisibilidade denuncia falhas estruturais na forma como sociedades lidam com a diferença, a vulnerabilidade e a alteridade.
O acolhimento, em sua dimensão mais profunda, vai além de gestos de hospitalidade ou cordialidade. Ele constitui um compromisso ético e político com a vida do outro, especialmente quando esse outro se encontra em estado de vulnerabilidade ou de sofrimento. Em tempos de precarização das relações sociais, a prática do acolhimento assume um papel central no cuidado em saúde mental.
Receber alguém com escuta atenta, respeito e empatia significa legitimar sua dor e reconhecer sua humanidade. Contudo, o acolhimento também enfrenta tensões. Em sociedades regidas pelo desempenho e pelo consumo, acolher pode parecer um ato de resistência, pois exige tempo, disponibilidade e sensibilidade — recursos cada vez mais escassos.
Além disso, há o risco de que o acolhimento seja reduzido a protocolos técnicos ou a discursos institucionais sem efetividade prática, transformando-se em simulacro. A crítica necessária aponta para a urgência de um acolhimento genuíno, que não se limite a enquadrar o outro em categorias diagnósticas, mas que o reconheça em sua singularidade e complexidade.
A dor, em suas múltiplas dimensões — física, psíquica, social ou espiritual —, é elemento constitutivo da existência humana. No entanto, a cultura contemporânea tende a rejeitá-la ou a escondê-la. Vivemos em uma sociedade que glorifica o prazer, o sucesso e a performance, relegando a dor a um espaço de invisibilidade. O sofrimento é, muitas vezes, tratado como fracasso individual ou fraqueza moral, o que intensifica a estigmatização daqueles que o vivenciam.
No campo da saúde mental, a dor psíquica costuma ser medicalizada, transformada em sintoma a ser suprimido, em vez de compreendida como expressão legítima da subjetividade. Essa tendência revela a dificuldade da sociedade em lidar com a vulnerabilidade humana. A crítica aqui é clara: é preciso ressignificar a dor, não como algo a ser negado ou eliminado a qualquer custo, mas como experiência que pode abrir caminhos para a elaboração de sentidos, para a criação e até para a solidariedade. Ignorar ou silenciar a dor do outro equivale a negar-lhe o direito à existência plena.
A invisibilidade é um dos fenômenos mais cruéis da vida contemporânea. Ela se manifesta quando pessoas ou grupos sociais têm suas vozes silenciadas, suas dores ignoradas e suas necessidades negligenciadas. Migrantes, pessoas em situação de rua, minorias étnicas, mulheres vítimas de violência e indivíduos com transtornos mentais são frequentemente relegados à margem, transformados em estatísticas, mas não em sujeitos reconhecidos. A invisibilidade, nesse sentido, não é apenas ausência de reconhecimento, mas uma violência simbólica que aprofunda o sofrimento psíquico.
Na esfera da saúde mental, a invisibilidade assume contornos ainda mais dramáticos. Muitas pessoas que sofrem não encontram espaços de escuta, seja por falta de acesso a serviços, seja por estigma. O silêncio social em torno da depressão, da ansiedade ou do suicídio revela o quanto a sociedade ainda resiste em enfrentar de modo aberto essas realidades. Criticamente, é necessário compreender que a invisibilidade não é neutra: ela é produto de estruturas de poder que decidem quais vidas são dignas de atenção e quais podem ser descartadas.
O debate contemporâneo sobre saúde mental precisa ser situado em um cenário de múltiplas crises: econômicas, políticas, ambientais e culturais. O aumento alarmante de casos de depressão, ansiedade e suicídio é um sintoma de que algo não vai bem na forma como a sociedade organiza seus modos de vida. A saúde mental não pode ser reduzida ao ajuste individual ao mundo, mas deve ser entendida como fenômeno que envolve condições materiais, relações sociais e horizontes de sentido.
Nesse quadro, o acolhimento torna-se ferramenta essencial de cuidado, a dor precisa ser legitimada como experiência a ser elaborada, e a invisibilidade deve ser combatida com políticas públicas, inclusão social e reconhecimento da diversidade. Uma perspectiva crítica e atual sobre saúde mental não pode se limitar a intervenções clínicas isoladas, mas deve considerar a dimensão coletiva do sofrimento.
VEJA OUTROS ARTIGOS DO PROFESSOR AFONSO MACHADO
Tratar da saúde mental, portanto, é também tratar da desigualdade, da violência simbólica e da exclusão social. O acolhimento, a dor, a invisibilidade e a saúde mental formam um conjunto de questões interligadas que desafiam a sociedade contemporânea. Acolher significa abrir espaço para a dor do outro, ressignificando-a como parte legítima da vida humana. Combater a invisibilidade exige enfrentar estruturas sociais que silenciam e marginalizam. Promover saúde mental implica pensar para além da dimensão clínica, reconhecendo os impactos do contexto social, cultural e político no sofrimento psíquico.
O desafio, hoje, é resgatar a densidade da experiência humana em meio à superficialidade de relações utilitaristas, garantindo que a dor não seja negada, que a invisibilidade não se perpetue e que o acolhimento se transforme em prática cotidiana. É nesse horizonte crítico e atual que podemos vislumbrar uma saúde mental verdadeiramente inclusiva, humanizada e transformadora.(Foto: Terrence Henry/Pexels)

AFONSO ANTÔNIO MACHADO
É docente e coordenador do LEPESPE, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicologia do Esporte, da UNESP. Leciona, ainda, na Faculdade de Psicologia UNIANCHIETA. Mestre e Doutor pela UNICAMP, livre docente em Psicologia do Esporte, pela UNESP, graduado em Psicologia, editor chefe do Brazilian Journal of Sport Psychology.
VEJA TAMBÉM
PUBLICIDADE LEGAL É NO JUNDIAÍ AGORA
ACESSE O FACEBOOK DO JUNDIAÍ AGORA: NOTÍCIAS, DIVERSÃO E PROMOÇÕES