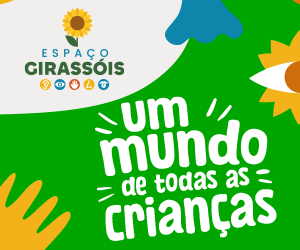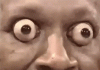A história da educação é uma narrativa de buscas e rupturas. Nas praças da Grécia Antiga, a paideia moldava cidadãos (alguns) para a vida pública, unindo ética, arte e razão. O Iluminismo ampliou esse ideal, proclamando a educação como ferramenta de emancipação. Mas a Revolução Industrial do século XIX sequestrou esse projeto: transformou escolas em fábricas de mão de obra, fragmentou saberes e substituiu a reflexão pela eficiência.
Em resposta, insurgiram-se vozes dissidentes. Johann Wolfgang von Goethe, poeta e cientista, propôs uma revolução silenciosa: a ciência como diálogo sensível com a natureza. Observar uma planta era, para ele, sentir seu movimento vital… não dissecá-la em dados mortos. Enquanto a educação tradicional segregava arte e ciência, Goethe as via como faces da mesma moeda: a experiência direta do mundo.
O século XX trouxe respostas concretas.
Rudolf Steiner, herdeiro de Goethe, apresentou alternativas. Uma delas: a Pedagogia Waldorf, na qual crianças tocavam a terra para entender geologia, pintavam estratos rochosos e escreviam poemas sobre a origem do mundo.
Nos anos 1960, Paulo Freire ecoava no Brasil um grito ainda mais radical. Em Pedagogia do Oprimido, denunciava a “educação bancária”, que entulha mentes passivas com informações desconectadas da vida e proclamava que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção. Para Freire, a verdadeira educação nascia da leitura do mundo antes das palavras, transformando salas de aula em espaços de diálogo e libertação coletiva.
Hoje, os desafios persistem em novas roupagens. Escolas aprisionadas em rankings, jovens imersos em telas, mas alheios à terra, conhecimentos especializados que geram novos analfabetismos: ecológico, político, ético.
Como falar de mudanças climáticas sem vínculo sensível com a natureza? Como discutir democracia sem experiência real de diálogo?
A resposta está numa educação que reconcilie o que a modernidade rasgou. Pedagogias como a Waldorf são faróis: ali, cultivar uma horta não é exercício botânico, mas prática de interdependência, ecoando Freire ao vincular saber e transformação social. Aprender sobre erosão do solo torna-se ato político quando se desenha a paisagem degradada e se discutem suas causas. Esta abordagem não é romântica; é estrategicamente humana. Forma cidadãos capazes de enfrentar crises complexas porque funde:
O rigor fenomenológico de Goethe (observar para compreender); a integralidade de Steiner (mente, coração e mãos) e a conscientização freireana (o saber como ferramenta de libertação).
LEIA OUTROS ARTIGOS DE JOSÉ FELICIO RIBEIRO DE CEZARE
Sociedades críticas e progressistas não nascem por acaso. São tecidas em escolas que ousam trocar informações estanques por experiências significativas. Que formam exploradores de territórios desconhecidos, nos quais a geologia se aprende com os pés no rio, a poesia nasce do choque com a injustiça e a ecologia é um pacto ético com o futuro.
Como nos trouxe Freire, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, por isso aprendemos sempre, pois trocamos saberes. Neste século fraturado, educar para a liberdade permanece o mais urgente dos atos revolucionários.(Foto: Gemini)

JOSÉ FELICIO RIBEIRO DE CEZARE
Mestre e doutorando em Ensino e História de Ciências da Terra pelo Instituto de Geociências da Unicamp. Membro da Academia Jundiaiense de Letras. Pesquisador, historiador, professor, filósofo e poeta. Coeditor da Revista literária JLetras. Para saber mais, clique aqui. Redes sociais: @josefelicioribeirodecezare.
VEJA TAMBÉM
PUBLICIDADE LEGAL É NO JUNDIAÍ AGORA
ACESSE O FACEBOOK DO JUNDIAÍ AGORA: NOTÍCIAS, DIVERSÃO E PROMOÇÕES